Negócios
A crise dos fundos multimercados não tem fim e a sangria bilionária continua. Há saída à vista?

Os fundos multimercados, que têm maior liberdade de alocação de recursos em diversas classes de ativos, tiveram uma sangria de R$ 324 bilhões de janeiro a novembro de 2024, segundo dados da Anbima. A explicação de boa parte dos gestores para esses saques está no desmonte de fundos exclusivos, que passaram a pagar come-cotas.
Mas um levantamento do BTG Pactual, no qual o NeoFeed teve acesso com exclusividade, mostra que os saques vão além dos recursos dos fundos exclusivos. O banco de investimento identificou o fluxo para os fundos multimercados “puro sangue”, sem considerar aqueles exclusivos ou que seguem outras estratégias, como de crédito, mas que recebem a mesma classificação.
A conclusão não deixa dúvidas sobre a crise dos multimercados: os resgates somaram R$ 100 bilhões em 2024, superando os R$ 60 bilhões do ano passado. Desde 2022, as retiradas dos fundos analisados como multimercados “puro sangue” acumulam R$ 180 bilhões. Para chegar aos números, o BTG aplicou critérios como tamanho, estratégias, análises qualitativas das gestoras e número de cotistas.
A questão que se coloca é quando essa sangria vai parar? E o que explica essa debandada dos investidores rumo a outros ativos? Uma das razões está no desempenho dos multimercados.
Um levantamento da Elos Ayta Consultoria mostrou que apenas 34% dos fundos multimercado ficaram acima do CDI no ano de 2023. Em 2024 até novembro, esse número subiu um pouco, para 42% acima do benchmark.
“Os resgates são resultados de uma performance ruim, mas acima de tudo porque eles não cumprem o seu papel de diversificação na carteira há três anos”, diz Eduardo Castro, CIO da Portofino Multi Family Office. “Neste mundo pós-pandemia, os fundos vão bem quando o mercado vai bem. E quando vai mal, em vez de minimizarem as perdas como esperado, perdem até mais.”
É importante lembrar que a indústria viveu um grande boom entre 2012 e 2019 com o crescimento das plataformas digitais e a democratização dos investimentos, o que possibilitou o surgimento de várias novas assets e levou os multimercados ao investidor de varejo.
Quando a taxa de juros foi caindo e chegou a 2% em 2020, os investidores tomaram mais risco. Mas, à medida que o Brasil voltou à taxa média anual de juros de dois dígitos, o investidor foi saindo do risco.
Os investidores mais sofisticados, que seguraram a posição em seus altos e baixos até este ano, olharam a relação risco-retorno dos últimos 36 meses e avaliaram que não compensava ficar alocado nessa estratégia.
O que se espera é um retorno de CDI+3% no longo prazo para esse risco. O Itaú Fund of Funds fez um filtro para ver qual é, de fato, um multimercado “puro sangue”, e não um fundo temático com essa classificação, e analisou quais (dos 102 fundos na lista) nos últimos cinco anos teve um retorno de CDI +3%.
Em 2019 e 2020, 57% e 42%, respectivamente, entregaram essa rentabilidade. Em 2021 e 2022, apenas 22% e 16% respectivamente. E em 2023 e 2024, menos de 10% conseguiram esse resultado desejado.
“Sem dúvida estamos vivendo um momento de crise da indústria, que “inchou” muito nos últimos anos. E agora vive-se um processo de seleção de quem realmente está apto para lidar com as adversidades e entregar valor para o cliente”, afirma Rodrigo Giordano, superintendente da área de fund of funds do Itaú.
A tributação dos fundos exclusivos acelerou os resgate. Agora, com o imposto sendo pago de forma recorrente, ficou mais caro ter essa estratégia. Muitos investidores revisaram o portfólio e se sentiram livres para mandar mais recursos para o exterior e investir em títulos isentos no Brasil.
“Com a tributação, os clientes buscaram mais eficiência no Brasil em títulos isentos e aumentaram a sua exposição em moeda forte”, afirma Marcos Macedo, head de research e alocação da Fami Capital. “Mas além disso, a paciência do investidor com os multimercados acabou. Uma indústria que tem volatilidade, cobra 2% de taxa mais 20% de performance para entregar, na média, 110% do CDI”.
A decisão de resgatar os recursos dos multimercados também é técnica de alocação. Pelo cenário completamente incerto no Brasil, os poucos gestores que têm conseguido bons resultados estão capturando beta do mercado americano, com exposição a juros e bolsa.
Nada que não seja possível de conseguir com ETFs internacionais a custos mais baixos. Muito diferente de fundos de ações e crédito privado, por exemplo, em que uma seleção criteriosa se mostra fundamental.
“Os multimercados sempre foram um instrumento de geração de alfa em mercados difíceis e custosos de operar pelos alocadores. Mas agora o escopo das estratégias ganhadoras tem sido relativamente trivial, a gente pode montar a posição até mesmo na B3”, afirma Castro, da Portofino Multi Family Office.
O que se espera para 2025?
Mesmo após todos esses resgates, a sangria pode não ter estancado, mas vem mostrando desaceleração. Os gestores de grandes fortunas afirmam que ainda há fundos exclusivos para serem analisados e desmontados. E, com os juros subindo possivelmente para 15% ao ano, os investidores devem sair de fato do risco.
Em meio a isso, algumas gestoras começam a passar apertos para conseguir gerar melhores resultados. Com a queda de volume sob gestão, a receita fica menor para manter o mesmo time. O que se espera é uma consolidação da indústria.
Na segunda semana de dezembro deste ano, a gestora BlueLine anunciou o encerramento de suas operações, citando “condições de mercado” como motivo. De acordo com Fabio Akira, economista-chefe e um dos sócios, fatores como a alta de juros e a concorrência com a renda fixa pesaram para a decisão.
Guilherme Zaczac, head de investimentos alternativos líquidos no Brasil do UBS Global Wealth Management, destaca que, embora as saídas tenham “reduzido significativamente”, ainda não cessaram. “A barreira de entrada para ser um gestor multimercado é bem maior do que se pensava. Faz parte do amadurecimento do mercado”, afirma.
Apesar das dificuldades, Zaczac acredita que os fundos multimercados podem voltar a captar no próximo ano, desde que entreguem retornos atrativos. Ele aponta uma melhora significativa no desempenho dos principais fundos nos últimos seis meses. “Se a indústria performar bem até o fim do primeiro trimestre, haverá fluxo para esses gestores”, diz.
A questão está em saber quem serão esses vencedores. E os grandes alocadores estão muito mais criteriosos com suas escolhas. Para Fernando Donnay, portfólio manager da G5 Partners, a conversa com os gestores tem sido mais próxima, entendendo quem pode aproveitar a crise para capturar bons profissionais no mercado, ou quem está com a corda no pescoço.
“Esse é o momento de estar em casas sólidas e ver quem está em transformação e está investindo para ter um produto mais robusto do que o clássico trade de bolsa e juros”, afirma Donnay.
Esse movimento de consolidação pode ser também o início de uma transformação da indústria, como ocorreu com os hedge funds americanos. Por lá, a competição com a indústria de fundos indexadas obrigou os gestores a diminuírem os seus custos e buscarem mais alfa no longo prazo. E para conseguirem diversificar mais o risco, sem aumentar custos, passaram a usar massivamente tecnologia para alocação globalmente.
“Para cobrar caro é preciso dar um retorno mais agressivo, ao mesmo tempo não há espaço para grandes drawdown. Estamos vendo, corretamente, alguns gestores aumentando a sua exposição no exterior, adicionando novas fontes de alfa. Mas, para isso, é necessário investimento em pessoas e tecnologia”, afirma Adilson Ferrarezi, head de soluções de investimentos da Bradesco Asset.
Desde 2021, grandes gestoras de multimercado têm se desafiado no mercado global. Em 2022, conseguiram bons retornos com isso, mas em 2023 erraram. E a grande aposta para 2025 da indústria é o mercado internacional, que parece ter uma tendência mais clara para operar.
Ao mesmo tempo, no Brasil, cada vez mais o mercado global se abre para os pequenos investidores, que podem ter acesso a grandes gestoras internacionais e com o apoio de um assessor de investimentos.
“É importante os gestores ‘operarem mundo’, mas é preciso humildade em saber onde está o seu diferencial em relação a grandes gestores sentados em Nova York ou Londres”, afirma Ferrarezi. “Na nossa opinião, é replicar o aprendizado no Brasil para outros países que possam vir a passar por movimentos semelhantes e entender os impactos para emergentes.”
Lá fora, os hedge funds perderam estruturalmente espaço na carteira, mas são um dos grandes responsáveis pela geração de alfa. Por aqui, ainda não dá para saber se eles podem reconquistar o espaço que tiveram antes.
Mas já se espera que os vencedores sejam poucos e com uma estrutura muito mais robusta do que aquela que ganhou espaço anos atrás.
Negócios
Recompra de ações e fechamentos de capital secam bolsa e gestores temem falta de papel para comprar

Em fevereiro deste ano, a empresa de telefonia TIM anunciou um programa de recompra de ações estimado em R$ 1 bilhão. Na semana passada, a mineradora Vale informou ao mercado que pode tirar quase R$ 7 bilhões em ações do mercado. E a varejista Renner, R$ 1 bilhão.
Esses são os mais recentes exemplos de uma onda que, em meio ao marasmo da renda variável, movimentou a bolsa nos últimos meses. O Itaú BBA fez as contas e chegou a números impressionantes. Há 127 programas de recompras de ações abertos de 108 companhias, um volume de R$ 72,3 bilhões, quase a totalidade disso anunciado nos últimos 12 meses. Só em 2025, 11 programas foram aprovados.
Somado a isso, muitas empresas estão fechando o capital e deixando a bolsa de valores brasileira. De 2018 a 2024 foram 39 ofertas públicas de aquisição de ações (OPAs). Em 2013, ocorreram 13 fechamentos de capital, o maior patamar do período. No ano passado, foram nove OPAs.
E a lista não para de crescer. Na fila para fechar o capital estão Kora Saúde, Eletromídia, ClearSale, Carrefour Brasil, Wilson Sons e Santos Brasil. A Serena é também uma empresa que pode ir para esse caminho.
Diante desse cenário, os gestores estão se perguntando: quando o mercado voltar, vai haver ações para comprar? A tese foi lançada por Christian Keleti, sócio e fundador da gestora AlphaKey, e está ganhando cada vez mais adeptos na Faria Lima. “É matemático e pode ser uma oportunidade para a bolsa mudar de patamar quando o mercado virar”, diz Keleti, ao NeoFeed.
Uma coisa não há dúvida: o mercado de ações brasileiro, que não tem uma abertura de capital desde a dupla listagem do Nubank, em dezembro de 2021, está “secando”.
De acordo com dados compilados pela consultoria financeira Elos Ayta a pedido do NeoFeed, o volume financeiro da bolsa vem caindo desde 2021, quando atingiu o pico de R$ 35,16 bilhões em média por dia, em valor ajustado pelo IPCA.
Esse indicador caiu para R$ 28,29 bilhões em 2022. No ano seguinte foi para R$ 22,07 bilhões. Em 2024, bateu em R$ 19,35 bilhões e, neste início de 2025, o volume médio está em R$ 17,57 bilhões.
“O volume financeiro vem caindo muito fortemente, embora o preço esteja subindo. Tem poucos players fazendo o mercado e isso não é legal. O ideal seria que o Ibovespa tivesse uma valorização significativa, mas alavancada por um grande volume financeiro”, diz Einar Rivero, sócio-fundador da Elos Ayta Consultoria.
“As coisas estão indo na contramão. O mercado subir com volumes baixos é perigoso porque são poucos players transacionando e levantando preço. Isso pode trazer uma insegurança com relação à realidade da pontuação do índice”, complementa.
A AlphaKey resolveu fazer também as contas sobre a variação do free float (o universo de ações que não estão em posse dos controladores) nos últimos três anos e chegou à conclusão de que ele caiu 13% desde janeiro de 2022, passando de R$ 1,96 trilhão para R$ 1,7 trilhão – R$ 260 bilhões a menos para comprar.
O free float caiu 13% desde janeiro de 2022, passando de R$ 1,96 trilhão para R$ 1,7 trilhão
“Essa queda se dá pela combinação de redução no preço, dividendos pagos e recompras”, afirma Keleti. “Em nossas estimativas, somente as recompras enxugaram algo como R$ 60 bilhões do float neste período.”
De acordo com o fundador da AlphaKey, olhando os dados da B3, fica evidente que as pessoas físicas e jurídicas foram os compradores finais dos últimos anos por conta das vendas massivas de institucionais locais e estrangeiros.
“Temos menos free float para negociar ações. Por isso que, no mês de janeiro, entra comprador e já puxa a bolsa para cima. O estrangeiro comprou pouquinho, os fundos se posicionaram um pouco, mas nada absurdo”, diz Marco Saravalle, sócio e CIO da MSX Invest.
Faroeste acionário
Em paralelo à queda do volume financeiro está a baixa volatilidade da bolsa de valores, que está no piso histórico. Esse comportamento tem duas explicações.
A primeira é a saída dos estrangeiros da bolsa e a aversão dos fundos locais ao mercado de ações. A segunda é que, no ambiente atual de juros altos, há poucas operações long e short de ações, que ajudam nessa movimentação diária.
Um exemplo é a ação preferencial da Petrobras, que sempre negociou mais de R$ 1 bilhão por dia. Em fevereiro deste ano, o papel PETR4, que está sendo negociado na casa de R$ 38,36, tem um volume financeiro médio diário de R$ 966 milhões. Um volume financeiro parecido, de R$ 972 milhões, aconteceu em julho de 2017, quando a ação estava perto de R$ 5.
Por outro lado, em outubro de 2022, quando o volume financeiro médio diário da Petrobras atingiu R$ 3,71 bilhões, o preço da ação estava em torno de R$ 15. “A volatilidade do Ibovespa nos menores níveis da história juntamente com o baixo volume dá a imagem perfeita do que está acontecendo no mercado brasileiro”, diz Rivero.
E isso ajuda a criar outras distorções. “Cenário de baixa liquidez é o de faroeste. Tem puxada de papéis ilíquidos de gestores que querem salvar suas cotas, movimentos atípicos, manipulação de mercado, até de coisas que a CVM deveria ir atrás e não vai. Você num papel como esse pode se beneficiar ou sofrer muito se acontecer o inverso. Baixa liquidez é ruim para todo mundo, até para os malandros”, diz um gestor, que pediu para não ser identificado.
Outro gestor, que tem mais de R$ 20 bilhões de recursos sob gestão, diz que a tese de que vai faltar papel para comprar é “a cereja do bolo, mas não pode ser confundida com o bolo todo.” De acordo com essa fonte, se o Brasil melhorar, por qualquer razão, esse aspecto, de poucas ações para comprar, vai potencializar a alta.
“Mas se a bolsa subir, as empresas que estão recomprando vão voltar a emitir ações, vão acontecer follow-ons e novas emissões que vão suprir essa falta de papel”, afirma esse gestor.
Poucas empresas, valuations baixos
Não são apenas as recompras de ações e os fechamentos de capital que estão deixando a bolsa brasileira cada vez mais seca. A AlphaKey resolveu fazer um filtro sobre o tamanho das empresas listadas na B3 em valor de mercado.
Os resultados, mais uma vez, mostram um cenário preocupante. Em janeiro de 2022, havia 254 empresas (o critério foi número de companhias e não de classes de ações) com valor acima de R$ 300 milhões. Hoje, são 218.
Desse universo, 42% empresas valem menos de R$ 2 bilhões (91 companhias). Outras 18% estão entre R$ 2 bilhões e R$ 5 bilhões. De acordo com os dados da AlphaKey, quase 75% das empresas estão abaixo de R$ 10 bilhões em valor de mercado.
“Em 2024, a Índia teve mais IPOs (334) do que todas as empresas listadas no Brasil. E a Polônia conta atualmente com mais de 400 companhias na bolsa de Varsóvia”, afirma Keleti.
Em janeiro de 2022, havia 254 empresas com valor acima de R$ 300 milhões. Hoje, são 218
A combinação de empresas de baixo valor de mercado sendo negociadas a múltiplos comprimidos tem feito outros atores, que negociam no mercado privado, a entrar em transações com companhias abertas, muitas vezes para fechar o capital.
São os casos dos fundos de private equity e compradores estratégicos. Nos últimos meses, várias transações deste tipo aconteceram. A Evertec, por exemplo, comprou a Sinqia. A Warburg Pincus, a Alper Seguros. A Equifax ficou com a BoaVista. A Experian com a ClearSale. A Globo com a Eletromídia. E o Ultra entrou na Hidrovias.
“Por que olhar um business privado se os valores na bolsa estão descontados? Há muitas oportunidades na bolsa”, afirma Gustavo Heilberg, sócio da gestora de ações HIX Capital.
Por conta desse cenário, qualquer notícia, por mínima que seja, que aponte para uma mudança de cenário é capaz de gerar uma onda de otimismo que puxa as cotações para cima.
A mais recente delas é a queda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o mais baixo patamar de todos os seus três mandados, segundo pesquisa do instituto DataFolha – apenas 24% aprovam o atual governo, contra 41% que desaprovam.
Em janeiro, o Ibovespa, principal índice da B3, registrou 4,86% de valorização. Foi o melhor mês do mercado acionário desde agosto do ano passado, quando o indicador teve alta de 6,54% e bateu seu recorde nominal de pontuação, aos 137.343 pontos. Em 2024, foram oito meses de índice negativo. Neste ano, até sexta-feira, 21 de fevereiro, o Ibovespa acumula 5,83% de alta, aos 127.128 pontos (mas em 12 meses o indicador cai 2,4%).
Segundo Keleti, da AlphaKey, na Argentina, mesmo sem nenhum sinal de um governo reformista, as mínimas dos mercados se deram um ano e meio antes do pleito presidencial, muito antes de qualquer possibilidade de alguém como Javier Milei subir ao poder, simplesmente pela reponderação da probabilidade da não-continuidade do Kirschnerismo.
A questão é se o “efeito Orloff”, referência a uma frase de comercial de vodka que ficou popular nos anos 1980 (“Eu sou você… amanhã”), vai acontecer no Brasil. Se o mercado virar, uma coisa parece certa: um rally que vai elevar rapidamente os papéis porque vai faltar ações para comprar.
E a B3?
Como fica a B3 com o mercado de ações “secando” no Brasil? Esse é um tema na qual o presidente da empresa, Gilson Finkelsztain, tem sido constantemente questionado por investidores. E a resposta está na ponta da língua: a estratégia de diversificação que a companhia tem empreendido nos últimos anos tem dado resultados.
“Temos uma diversificação que protege a nossa receita”, afirmou Finkelsztain, em dezembro do ano passado, durante o B3 Day, acrescendo que a renda variável já representa menos de 20% do faturamento da B3. “O potencial de crescimento da companhia está protegido.”
Os resultados do quarto trimestre de 2024, divulgados na semana passada, ajudam a ilustrar isso. A receita líquida total atingiu R$ 2,7 bilhões, alta de 7% em relação ao mesmo período do ano passado.
Destaque para os derivativos listados, cujo volume médio diário negociado totalizou 6,1 milhões de contratos. As emissões de renda fixa cresceram 13,8% e o estoque avançou 23,9% – principalmente as dívidas corporativas. Também vale citar o crescimento de ETFs (39,1%), BDRs (91,5%) e fundos listados (43,1%).
De acordo com relatórios do Goldman Sachs e do Itaú BBA, os resultados da B3 vieram em linha com expectativa do mercado. Ambos mantiveram o rating de “compra” para a B3 dado o desconto que vem sendo negociada em relação ao seus pares globais (10,5 vezes o preço/lucro para 2026). Em 2025, as ações sobem 10%.
Em tempo: até a B3 entrou na onda de recompra de ações. No ano passado, recomprou 340 milhões de ações, aproximadamente 6% de seu capital social. E aprovou outro programa para comprar até 380 milhões de ações ordinárias, além de entrar em novos contratos derivativos relacionados às suas próprias ações (swap de ações). Com isso, a empresa pode recomprar um total de aproximadamente 7,2% de seu free float se o programa for totalmente implementado.
Negócios
Em “Crentes”, um manual para entender o fenômeno evangélico no Brasil

O antropólogo Juliano Spyer tem uma missão quase de fé: descortinar o universo evangélico para quem, por preconceito, ainda não entendeu a força social, eleitoral e econômica desse grupo de mais de 80 milhões de pessoas no Brasil.
Há cinco anos, ele lançou O povo de Deus, que ampliou o tema para parte da academia — e da esquerda —, refratária a assuntos envolvendo esse grupo religioso. Agora, junto com os colegas Guilherme Damasceno e Raphael Khalil, Spyer apresenta Crentes — Pequeno manual sobre um grande fenômeno.
Em entrevista ao NeoFeed, Spyer afirma que a necessidade de se lançar um manual sobre o fenômeno evangélico está ligada à dificuldade de setores da sociedade, principalmente as universidades, em buscar entender esse grupo de pessoas.
“A cara do evangélico brasileiro é preta, pobre, periférica. É, portanto, urbana e predominantemente feminina. Então, a princípio, esse é um universo fora do universo aqui dos pensadores do Brasil, dos intelectuais, das pessoas que escrevem em jornal”, diz Spyer.
Para o antropólogo, a academia ainda vê esse grupo religioso de uma maneira preconceituosa e superficial. Mas acredita que isso está mudando, principalmente entre empresários, que percebem como o seu negócio pode ser prejudicado ou impulsionado a partir da forma que for apresentado.
“Os evangélicos são um grupo muito sensível a alguns temas morais. E esses temas apareceram com muita intensidade nos últimos anos. Esse tipo de publicidade que toca, de alguma forma, a sensibilidade do campo evangélico, dá margem para descontentamento e afastamento”, afirma Spyer.
Em 237 páginas, o trio de autores explica as estruturas das igrejas evangélicas, noções básicas sobre protestantismo, a importância da música, as gírias, o gênero, a sexualidade e a política. Uma miríade de temas, sempre tratados de forma clara, como deve ser um manual:
Confira a seguir os principais trechos da conversa de Spyer com o NeoFeed.
O que mudou entre o lançamento de O povo de Deus, em 2020, e o de Crentes, em 2025, principalmente diante de um período de eleição presidencial?
Vejo uma coisa mudando: o entendimento de que o universo evangélico deve ser tratado de um jeito mais interessante. Estou me referindo principalmente a candidatos, políticos, pessoas ligadas a partidos de esquerda, entendendo que existe alguma coisa mais interessante, mais complicada do que simplesmente a visão anterior de que o crente variava entre um coitadinho que não foi para escola e um pastor manipulador carismático.
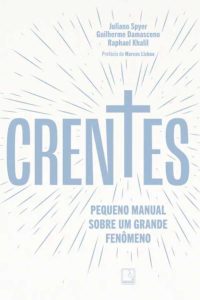
Mas ainda há entraves nesse entendimento sobre os evangélicos, não?
Eu chamo isso de bloqueio cognitivo, esse entendimento racional da importância do campo evangélico — um universo que tem hoje em torno de quase 80 milhões de pessoas. Eu não vi esses partidos de esquerda fazendo um movimento mais profundo no sentido de alterar a percepção de que a esquerda é inimiga do cristianismo evangélico. Isso eu não vi acontecer.
Em sua opinião, por que não?
Eu tenho a impressão de que é um uma questão geracional, um bloqueio mesmo. Mas esse entendimento começa a vir de outros espaços, principalmente do mercado. Então, pensando em que medida o evangélico também pode ser visto ou como alguém que pode prejudicar o seu negócio, ou alguém que pode ser um consumidor mais ávido, mais envolvido, dependendo também de como você se comunica.
Por que um manual se, como o próprio título do livro indica, os evangélicos são um grande fenômeno? A quem se destina o manual?
O fenômeno evangélico existe fundamentalmente (ou evoluiu fundamentalmente) nas camadas populares do Brasil, do Brasil periférico. A cara do evangélico brasileiro é preta, pobre, periférica. É, portanto, urbana e predominantemente feminina. Então, a princípio, esse é um universo fora do universo dos pensadores do Brasil, dos intelectuais. Foi isso que motivou o manual, o fenômeno continua a crescer fora; ou principalmente fora dos muros acadêmicos. E que é visto por quem está dentro dos muros acadêmicos, em geral, de uma maneira preconceituosa e superficial.
Em relação à economia, então, há uma sensibilidade maior do setor empresarial sobre esse grupo?
Sim, a primeira sensibilidade tem a ver com o tema da perspectiva de um grande número de brasileiros. Um grupo muito sensível a alguns temas morais, que apareceram com muita intensidade nos últimos anos. A publicidade que toca, de alguma forma, a sensibilidade do campo evangélico, dá margem para descontentamento e afastamento. O evangélico, por exemplo, não quer que determinados conteúdos, como os envolvendo sexualidade, apareçam no corpo comercial de televisão durante o dia, quando os filhos estão assistindo televisão. Isso cria uma sensação de distanciamento em relação à marca. Então essa é a primeira coisa.
“A cara do evangélico brasileiro é preta, pobre, periférica. É, portanto, urbana e predominantemente feminina. Então, a princípio, esse é um universo fora do universo dos pensadores do Brasil”
Quais são as oportunidades de negócios oferecidas pelos evangélicos?
No setor de moda e de beleza, por exemplo. Existe muita demanda por esse tipo de produto, principalmente entre os evangélicos pentecostais — que zelam por sua aparência, pela maneira como são vistos e percebidos. A demanda por roupas, por exemplo, ainda é reprimida: roupas que mostrem menos o corpo. Mas a gente pode falar de comida, de bebida, de serviços bancários, de eletrônicos. Para todos esses campos existem oportunidades a serem exploradas.
A direita apostou no voto dos evangélicos para eleger Bolsonaro. Isso se confirmou de maneira efetiva?
Sim, foi efetiva nas duas últimas eleições presidenciais. Em torno de 70% do voto evangélico foi para o candidato de direita. A esquerda praticamente não conseguiu ser eficiente na comunicação com esse eleitor. As pessoas que continuam votando na esquerda dentro das igrejas e que suportaram essa pressão, se mantiveram de forma discreta. Quando a gente fala da presença bolsonarista, a gente fala dessa presença mais aguerrida, que não aceita a alternativa, que não aceita a diferença, que acha que o outro está completamente errado. Isso cria tensionamentos dentro das igrejas.
Qual perfil dos evangélicos que não apoiam o ex-presidente?
São dois principalmente. O primeiro está nas igrejas que chamamos de históricas ou missionárias. São igrejas mais antigas, tipo batista, metodista, luterana e, em certo sentido, também a presbiteriana. São igrejas de classe média, mais reservadas, em que esse proselitismo não acontece de uma maneira tão enfática. O segundo está nas igrejas pentecostais tradicionais, numa faixa de renda até dois salários mínimos. São pessoas que ainda dependem ou dependeram até pouco tempo atrás da ajuda do governo — portanto, mantém-se o elo de gratidão.
A defesa do armamento por parte de Bolsonaro foi vista como um entrave para o avanço do então presidente no eleitorado feminino mais pobre. Isso faz sentido?
Faz muito sentido. Nada é mais “anti-Jesus” — como disse o pastor Nelson Gomes, que era da Assembleia de Deus e acabou perseguido — do que uma pessoa com revólver na mão. Tem aí uma série de momentos bastante importantes da história de Jesus narrada na Bíblia, em que Jesus rejeita esse tipo de posicionamento, pela espada, pela guerra, por esse tipo de confronto. E nesse sentido existia aí uma percepção bastante refratária em relação a Bolsonaro —muito ligado ao Exército, à polícia, uma pessoa com uma atitude grosseira. Isso criou de fato um distanciamento entre mulheres, principalmente mulheres evangélicas.
Como os bolsonaristas abordaram essa questão?
Isso foi resolvido de forma muito poderosa pelo envolvimento crescente de Michelle Bolsonaro, atuando de uma maneira muito diligente, muito disciplinada, muito organizada, nos eventos, encontros e reuniões com mulheres. Já ouvi inúmeras vezes que o voto do Bolsonaro hoje é uma coisa que acontece com facilidade como um voto de confiança na Michelle e no que ela pode fazer junto com a atuação de Deus.
Negócios
O “mea culpa” alemão em filmes sobre os horrores do Holocausto

BERLIM — Barbeiro cai no choro ao se lembrar do trabalho que foi obrigado a fazer para os nazistas: cortar os cabelos das mulheres, sem que as prisioneiras, famintas e exaustas, desconfiassem de seu destino: a câmara de gás.
A cena é um dos momentos mais avassaladores de Shoah (1985), documentário de mais de nove horas de duração, que foi reexibido na íntegra durante a Berlinale, como é conhecido o festival de cinema da capital alemã, que chega em 2025 à sua 75ª edição.
O Holocausto raramente é ignorado pelo comitê que seleciona os filmes para o evento, com sede em Potsdamer Platz. Até porque os alemães não se cansam de lamentar o passado, definindo o Terceiro Reich como um capítulo obscuro da história do país.
Mas a programação de mea culpa está reforçada este ano, para marcar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Para que as atrocidades cometidas por Adolf Hitler (1889-1945) não sejam negadas ou esquecidas, filmes novos e antigos pontuam o festival, que será encerrado neste domingo.
Até agora, Shoah foi um dos pontos altos, com uma exibição na mostra Berlinale Special, com ingressos esgotados rapidamente, apesar de a projeção ter tomado o dia inteiro do público que compareceu à Akademie der Künste (AdK).
Apontado como o documentário mais importante sobre o Holocausto já feito, o filme assinado pelo francês Claude Lanzmann (1925-2018) se tornou um marco na história do cinema por não se apoiar em imagens de arquivo. Ele reuniu testemunhos de sobreviventes, nazistas e outros entrevistados que pudessem, de alguma forma, ajudar a reencenar o genocídio de seis milhões de judeus.
A riqueza de detalhes nos depoimentos é suficiente para que o espectador use a imaginação para visualizar os horrores. Um exemplo é o depoimento de Franz Schalling, registrado sem o conhecimento do guarda de segurança alemão, que descreve o processo de execução por gás em Chełmno, na Polônia.
Segundo ele, quando os judeus chegavam em caminhões ao campo de extermínio, os prisioneiros estavam “congelados, famintos e sujos”. Os oficiais nazistas diziam que eles teriam trabalho para fazer ali, mas que, antes de entrar, eles precisariam tomar banho. A caminho do porão, onde estavam as câmaras de gás (e não os banheiros), os presos tinham de se despir e entregar todos os objetos de valor.
Outro documentário, mais recente, dirigido pelo também francês Guillaume Ribot, resgata como foi revolucionária a representação do Holocausto em Shoah. Batizado Je n’avais que le néant (“Eu nada tinha, além do nada”, na tradução literal), esse é um filme sobre o filme anterior, com destaque para a jornada de mais de 12 anos de Lanzmann, período em que o cineasta percorreu 14 países em busca de testemunhas.
Ribot usou como base mais de 200 horas de material da filmagem original, além de recorrer a trechos do livro de memórias de Lanzmann, para estruturar a narrativa. Aqui entram não só os contratempos no caminho do documentarista de Shoah, como as artimanhas que ele usou para conseguir certos depoimentos, bem como suas inseguranças e dúvidas.
Lanzmann morreu, sem ter visto seu filme entrar, em 2023, para o Registro da Memória do Mundo da UNESCO.
Os moradores de hoje
Buscando outro ângulo do Holocausto, a Berlinale também apresenta nesta edição Bedrock, longa-metragem documental de Kinga Michalska, selecionado para a mostra Panorama. O que se vê aqui é um raio X psicológico da Polônia atual, a partir de depoimentos de quem mora nos locais de referência para o Holocausto até hoje.
Vários entrevistados ajudam a entender como as sombras do passado reverberam no presente, forçando os moradores a aprenderem a lidar com a memória coletiva traumática. Muitos ainda vivem sob um julgamento constante, como os residentes da cidade de Auschwitz — como se eles tivessem de se sentir culpados por viver no lugar onde foi erguido um campo de concentração.
A produção japonesa Underground, dirigida por Kaori Oda, também confronta presente e passado, ao revisitar as cavernas da ilha de Okinawa, onde os civis se escondiam durante os bombardeios conduzidos pelas tropas dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial. Buscando um efeito mais sensorial, a ferida histórica é traduzida por imagens que alternam escuridão e luz.
Para as gerações mais jovens
Os traumas da Segunda Guerra também atormentam o protagonista de série The Narrow Road to the Deep North, outro destaque da Berlinale Special deste ano. Foram exibidos os dois primeiros dos cinco episódios da produção, com foco em um herói de guerra (vivido por Jacob Elordi) com dificuldades para superar as memórias dolorosas do período em que foi prisioneiro dos japoneses.
Também foi programada para esta Berlinale a projeção de uma cópia restaurada de Das Falsche Wort (“A palavra equivocada”, em tradução literal), rodado em 1987, dentro da programação da mostra Forum Special. As documentaristas Katrin Seybold e Melanie Spitta resgatam aqui a perseguição nazista ao povo nômade conhecido como Sinti.
Elas revelam que o preconceito não acabou com o fim da guerra. Na época do lançamento, as cineastas reclamaram não terem tido acesso a certos documentos oficiais para a realização do filme.
Melanie Spitta (1946-2005), que perdeu seis irmãos durante o Holocausto, foi representada na sessão de Das Falsche Wort pela filha, a ativista Carmen Spitta.
Na ocasião, ela lembrou que mais de 500 mil ciganos da Europa foram assassinatos na era nazista, incluindo muitos de seus parentes.
Como Carmen disse, no cinema Arsenal: “Faz parte da nossa resistência, passar continuamente a nossa história às gerações mais jovens”.
-

 Entretenimento8 meses atrás
Entretenimento8 meses atrásda Redação | Jovem Pan
-

 Negócios7 meses atrás
Negócios7 meses atrásO fiasco de Bill Ackman
-

 Entretenimento6 meses atrás
Entretenimento6 meses atrásJovem Pan | Jovem Pan
-

 Tecnologia9 meses atrás
Tecnologia9 meses atrásLinguagem back-end: veja as principais e guia completo sobre!
-

 Empreendedorismo9 meses atrás
Empreendedorismo9 meses atrás5 maneiras de garantir acolhimento às mães na empresa
-

 Tecnologia9 meses atrás
Tecnologia9 meses atrásLinguagem de programação Swift: como programar para IOS!
-

 Entretenimento9 meses atrás
Entretenimento9 meses atrásGisele Bündchen arrecada R$ 4,5 milhões para vítimas de enchentes no RS
-

 Negócios9 meses atrás
Negócios9 meses atrásAs duas vitórias da IWG, dona de Regus e Spaces, sobre o WeWork: na Justiça e em um prédio em SP



















