Negócios
O que mudará a indústria de fundos, na visão de uma gigante quantitativa

A inteligência artificial tem trazido grandes dúvidas e desafios para diferentes indústrias, inclusive a de gestão de recursos. As máquinas conseguem processar uma quantidade enorme de dados, refinar as pesquisas e impactar os resultados. Esse é o futuro desse mercado?
“Finanças é um problema muito complexo para ser resolvido só por máquinas. Mas certamente elas trazem um novo poder de análise que pode ser usado para ter resultados mais eficientes, ou um viés descorrelacionado do mercado”, diz Gregor Andrade, diretor e global head of institutional business development da AQR Capital Management.
A AQR tem propriedade para falar de máquinas, inteligência artificial e gestão quantitativa. Com cerca de US$ 110 bilhões sob gestão, foi uma das precursoras da gestão quantitativa no mundo, criando muitos modelos de investimento com base em pesquisas científicas. Esses modelos foram se provando uma maneira inteligente e descorrelacionada do restante do mercado para produzir alpha (retorno acima do índice de referência).
No entanto, nem mesmo a AQR, como uma das grandes defensoras do modelo quantitativos, acredita que o mundo evoluirá para apenas robôs fazerem a gestão. A gestora acredita que as novas ferramentas podem ajudar o mundo da gestão a otimizar processos, mas para tomar a decisão – ou pelo menos guiar a máquina a produzir uma decisão – será sempre um trabalho de gestores talentosos.
“Um gestor que tem uma ideia diferente e entende de fato um setor consegue gerar alpha. É raro, mas tem”, afirma Andrade. “No mundo quantitativo, a dificuldade é a mesma. É conseguir ver uma tese de investimento, um viés do mercado, que a maioria das pessoas não sabem, e assim, gerar alpha”.
Fundada em 1998 nos Estados Unidos por três acadêmicos do mercado financeiro da Universidade de Chicago e da Northwestern University (Cliff Asness, David G. Kabiller e John M. Liew), na época que a gestora começou, não havia a quantidade de dados que existem atualmente.
Mas, nesses mais de 25 anos, a indústria foi evoluindo e hoje já é cerca de 20% do mercado de fundo de ações globais. E vem crescendo no mundo desenvolvido, ganhado ainda mais tração nos últimos anos com a volta da volatilidade dos mercados.
No Brasil, a AQR tem duas estratégias: o AQR Long Biased Equities, com retorno de 47,7% (em dólar) em 12 meses, e o AQR Corporate Arbitrage, com retorno de 7,5% (em reais) em 12 meses.
“Queremos trazer mais. Mas o Brasil é um país ainda muito fechado para investimento, e os brasileiros parecem estar muito contentes com os retornos das suas taxas de juros. Além disso, falta entendimento do que é uma gestão quantitativa e o que ela pode agregar no portfólio”, diz o diretor da AQR.
Em visita recente ao Brasil, Andrade, PHD pela universidade de Chicago e há 21 anos na AQR, onde é responsável pelo crescimento e atendimento do business global, falou com exclusividade ao NeoFeed. Confira os principais trechos da entrevista:
Muito tem se falado sobre o desenvolvimento da inteligência artificial e seus impactos no mercado financeiro e na indústria de asset management: robôs poderiam fazer as vezes de analistas e até mesmo de gestores. Como vocês enxergam essa evolução?
Acredito que inteligência artificial e machine learing são técnicas quantitativas. Não vejo um mundo em que só exista gestores quantitativos, ou seja, apenas gestores que sejam de inteligência artificial. Mas há algumas funções que as máquinas fazem melhor hoje que podem vir a ser usadas por todos os gestores no futuro com a ajuda da inteligência artificial. Por exemplo, a leitura de notícias, reports, balanços… Isso até pouco tempo atrás era tarefa de um jovem analista, reunir informações e sintetizar isso. Mas agora podem ser feitos ainda melhor por tecnologia. E isso mudará o processamento de informações na indústria.
O que você está dizendo é que os modelos, com dados, cálculos e novas ideias, não podem ser substituídos inteiramente por inteligência artificial?
Finanças é algo muito complexo. Estão conseguindo usos incríveis de inteligência artificial em hard science, como biologia e outras ciências de resultados mais exatos. Os mercados financeiros mudam e evoluem de acordo com a sociedade. Os mercados são resultados de pessoas, que mudam e evoluem. São dinâmicos, ou seja, um problema mais complicado para as máquinas, que têm dificuldade em lidar com a diferença entre os ruídos e os verdadeiros sinais. E outro grande problema é que há muito menos dados no mercado financeiro do que no mundo. Isso tudo não é um bom ambiente para a IA navegar, mesmo evoluindo do que temos hoje.
“Os mercados financeiros mudam e evoluem de acordo com a sociedade. São dinâmicos, ou seja, um problema mais complicado para as máquinas”
Ferramentas de gestão usadas apenas por gestores quantitativos poderão ser usadas por gestores discricionários?
Isso sim. Acredito que, no futuro, toda a gestão de ativos terá um pouco de quantitativo em algum grau de análise, o que torna a gestão mais eficiente. Mas o alpha da gestão discricionária está mais em ver as mudanças e tendências do mercado. Coisas que as máquinas, processando dados antigos, acredito que não possam ser melhores. Elas podem competir no mercado, como muitos gestores ruins que temos e que não batem o benchmark, mas não gerarão alpha como é esperado de um bom gestor discricionário.
Tem sido cada vez mais difícil para a gestão ativa bater o benchmark. Isso também tem acontecido com a gestão quantitativa?
Os estudos acadêmicos mostram que, ao menos nos EUA e mercados desenvolvidos, sempre foi difícil para os gestores baterem o mercado, principalmente em ações. E faz sentido, porque as informações são limitadas e tem muita gente analisando as mesmas informações, o que leva a um preço justo. Mas, um gestor que tem uma ideia diferente e entende de fato um setor consegue gerar alpha. É raro, mas tem. E no mundo quantitativo, a dificuldade é a mesma. É conseguir ver uma tese de investimento, um viés do mercado, que a maioria das pessoas não sabem, e assim, gerar alpha. E depois que essas teses forem descobertas, elas param de funcionar e você precisa encontrar outras.
Isso significa que os desafios são iguais?
Sim, os desafios da gestão discricionária e quantitativa são iguais, mas a solução para os problemas é diferente. Enquanto o gestor vai procurar se especializar muito em uma área para entender qualquer mudança, no lado quantitativo iremos buscar novos dados que não são usados por outros, e outras técnicas como machine learning entre outras coisas.
Como analisa o desenvolvimento da gestão sistemática no mundo? Em que momento estamos?
Tenho algumas hipóteses do porquê o Brasil, uma indústria de asset management tão desenvolvida, ou outros países similares, ainda não desenvolveram bem os modelos quantitativos. O melhor ambiente para esse modelo é onde existem muitos ativos, muitos dados e quando há muita liquidez. Quando o mercado é menor e concentrado, às vezes o modelo não consegue trabalhar como devia. Porque existem apenas algumas empresas em um setor, ou poucas dezenas de um segmento. Como gestão de portfólio global nós fazemos trading de milhares de posições. Temos portfólios com cerca de duas mil ações, por exemplo. Temos estratégias globais que negociam centenas de ativos, long and short.
No Brasil, ela ainda não é muito conhecida ou aplicada. Por quê?
Pode ser mais difícil para um gestor local, focado em ações Brasil de fato seguir um modelo quantitativo, porque tem menos informações e menos ativos. Mas isso não significa que esse gestor não possa gerir portfólios globais. Nós não fazemos mandatos de um único país ou único setor, por exemplo. Porque sabemos que os modelos trabalham melhor com mais ativos.
“Pode ser mais difícil para um gestor local, focado em ações Brasil de fato seguir um modelo quantitativo, porque tem menos informações e menos ativos”
E o momento no mundo?
No mundo, ainda há uma restrição em relação a ativos ilíquidos. Nós gostaríamos de gerenciar quantitativamente venture capital, private equity e real estate, mas a verdade é que os dados sobre esses mercados são ruins e a falta de liquidez impede uma negociação sistemática necessária.
Quais tipos de ideias e temas vocês estão usando agora nas suas estratégias?
Posso falar dois grandes temas. Em ações, no pós-pandemia, está havendo um movimento de retorno para ações de valor. Durante a pandemia, esse tipo de ação sofreu muito e as de growth supervalorizaram sem ter exatamente fundamentos para isso. Agora, esses mercados estão se equilibrando e as ações de valor estão se valorizando.
Qual é o segundo?
Do lado macro, estamos vendo o retorno da volatilidade. Entre 2010 e 2020, os mercados ficaram muito calmos, não tinha muito movimento e era difícil negociar mercados macro quantitativamente. Mas desde o fim da pandemia houve grande mudança na taxa de juros, a inflação voltou, assim como a dispersão em diferentes mercados. Isso é muito bom para estratégias quantitativas, que usam muitos dados para perceberem disparidades nesses movimentos de volatilidade.
E qual é o diferencial da gestão quantitativa em relação a gestão tradicional?
É importante dizer que o oposto da gestão quantitativa não é a fundamentalista. Você pode fazer gestão fundamentalista pelo quantitativo. O oposto é a gestão discricionária, com a decisão partindo de uma pessoa. Na quantitativa, são os modelos que dizem o que comprar e o que vender. Nesse tipo de gestão, se perde muito tempo criando o modelo, mas depois que ele está pronto é ele que decide os ativos e a quantidade. Mas os temas que estão por trás dos investimentos podem ser os mesmos dos dois. A diferença é que na gestão discricionária será analisado por pessoas e na quantitativa é o que os analistas irão usar para criar o modelo.
“O oposto da gestão quantitativa não é a fundamentalista. Você pode fazer gestão fundamentalista pelo quantitativo. O oposto é a gestão discricionária”
Há uma forma melhor de gestão?
Deixamos bem claro que não acreditamos que a gestão sistemática ou quantitativa seja melhor que a gestão discricionária ativa, com bons gestores. Elas são complementares, porque têm abordagens diferentes. Nossa performance tem um comportamento diferente, ajudando a diversificar. É descorrelacionado do restante e, por isso, acreditamos que o investidor deva ter os dois tipos de investimento.
Mas como vocês se diferenciam?
É muito difícil a gente explicar o que fazemos, porque tem muitas coisas envolvidas. Para nós, uma posição de 1% é muito grande. Enquanto os gestores buscam estar convencidos sobre o potencial de uma empresa, nós buscamos entender os movimentos de mercado.
A decisão final de investimento é tomada por um gestor ou por uma máquina?
Existem abordagens diferentes. O modelo faz um ranking com os melhores papéis. Algumas gestoras fazem com que a decisão final sobre quem entra [na carteira] seja de um gestor. Nós, não. Acreditamos que essa interferência prejudica o resultado. Se o modelo diz que tal empresa é a mais barata, não vamos julgar isso. Isso não significa dizer que não fazemos análises qualitativas; ao contrário, isso é muito importante. Mas nós transcrevemos tudo que queremos analisar em sinais quantitativos para serem processados. De forma que o resultado já é o que queremos, sem sermos enganados por vieses externos que recebemos em um dia ou outro, ou sobre a fala de um executivo da companhia.
Nunca há intervenção humana?
Há apenas uma exceção em que, de fato, intervimos. Se aparecer uma notícia sobre uma mudança futura. Por exemplo, o governo irá sobretaxar uma companhia. O modelo não sabe lidar com isso porque lida com dados passados. Mas nós não iremos fazer uma análise própria sobre a nova perspectiva dessa empresa. O que fazemos é retirá-la do nosso universo de análise.
Existem outros exemplos?
Sim, com um fundo de emerging markets e o início da guerra na Ucrânia. O modelo não entende nada sobre guerra, não há como modelar isso. Mas sabemos que os ativos de Rússia e Ucrânia deixaram de tratar pelos seus fundamentos para seguir o risco da guerra. Então, retiramos esses ativos do nosso universo. É preciso ter clareza sobre o que o modelo sabe e o que ele não sabe.
Isso significa que há pouquíssimas pessoas trabalhando na gestora?
Não exatamente. Temos cerca 300 pessoas no time que fazem pesquisas ou monitoram os portfólios. A área de pesquisa é fundamental para ver quais são as novas tendências, as novas ideias que irão nos ajudar a melhorar o portfólio. As pessoas mais importantes no longo prazo, e é daí que conseguimos gerar alpha no longo prazo. E as pessoas que monitoram os portfólios hoje precisam garantir que os modelos estão sendo implementados. E tem uma área de gestão de risco, em que monitoramos se os modelos estão trabalhando como esperado ou se precisam de ajustes. Converter o modelo em um portfólio demanda muita gente.
Cada pessoa tem uma função específica?
Precisamos de pessoas específicas para montarem todas as nossas mais de 15 estratégias: ações single style, que só usam uma estratégia como defensiva, valor ou momentum, ou multi-style. Ou Arbitragem, macro global ou ESG, por exemplo.
O investimento em ESG depende de uma grande análise de risco e de leitura de dados nem sempre financeiros e assim menos padronizados. Como fazem esse tipo de investimento na filosofia de vocês?
Nós não buscamos intervir nas empresas e torná-las mais ESG como importantes gestoras ESG. Então, não fazemos ESG ativista, não iremos mudar o mundo. Nossas posições são sempre pequenas, por nossa natureza. O que fazemos é achar portfólios que têm boas características ESG: poluem menos, usam menos carbono, são diversas etc. Tudo isso são números que podemos usar. O que dá para mensurar nós atuamos incorporando na estratégia quantitativa. Isso torna os portfólios com os melhores ratings de ESG do mercado.
Isso torna os portfólios mais rentáveis?
A verdade é que não dá para verificar isso empiricamente ainda. Mas há investidores globais que usam esses ratings como mandatórios para investimentos, principalmente na Europa. É por isso que criamos essa estratégia. Nos EUA, há muita polêmica sobre isso, mas para ter o mercado europeu isso é mandatório.
Negócios
Em “Crentes”, um manual para entender o fenômeno evangélico no Brasil

O antropólogo Juliano Spyer tem uma missão quase de fé: descortinar o universo evangélico para quem, por preconceito, ainda não entendeu a força social, eleitoral e econômica desse grupo de mais de 80 milhões de pessoas no Brasil.
Há cinco anos, ele lançou O povo de Deus, que ampliou o tema para parte da academia — e da esquerda —, refratária a assuntos envolvendo esse grupo religioso. Agora, junto com os colegas Guilherme Damasceno e Raphael Khalil, Spyer apresenta Crentes — Pequeno manual sobre um grande fenômeno.
Em entrevista ao NeoFeed, Spyer afirma que a necessidade de se lançar um manual sobre o fenômeno evangélico está ligada à dificuldade de setores da sociedade, principalmente as universidades, em buscar entender esse grupo de pessoas.
“A cara do evangélico brasileiro é preta, pobre, periférica. É, portanto, urbana e predominantemente feminina. Então, a princípio, esse é um universo fora do universo aqui dos pensadores do Brasil, dos intelectuais, das pessoas que escrevem em jornal”, diz Spyer.
Para o antropólogo, a academia ainda vê esse grupo religioso de uma maneira preconceituosa e superficial. Mas acredita que isso está mudando, principalmente entre empresários, que percebem como o seu negócio pode ser prejudicado ou impulsionado a partir da forma que for apresentado.
“Os evangélicos são um grupo muito sensível a alguns temas morais. E esses temas apareceram com muita intensidade nos últimos anos. Esse tipo de publicidade que toca, de alguma forma, a sensibilidade do campo evangélico, dá margem para descontentamento e afastamento”, afirma Spyer.
Em 237 páginas, o trio de autores explica as estruturas das igrejas evangélicas, noções básicas sobre protestantismo, a importância da música, as gírias, o gênero, a sexualidade e a política. Uma miríade de temas, sempre tratados de forma clara, como deve ser um manual:
Confira a seguir os principais trechos da conversa de Spyer com o NeoFeed.
O que mudou entre o lançamento de O povo de Deus, em 2020, e o de Crentes, em 2025, principalmente diante de um período de eleição presidencial?
Vejo uma coisa mudando: o entendimento de que o universo evangélico deve ser tratado de um jeito mais interessante. Estou me referindo principalmente a candidatos, políticos, pessoas ligadas a partidos de esquerda, entendendo que existe alguma coisa mais interessante, mais complicada do que simplesmente a visão anterior de que o crente variava entre um coitadinho que não foi para escola e um pastor manipulador carismático.
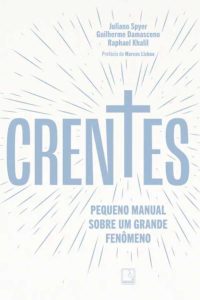
Mas ainda há entraves nesse entendimento sobre os evangélicos, não?
Eu chamo isso de bloqueio cognitivo, esse entendimento racional da importância do campo evangélico — um universo que tem hoje em torno de quase 80 milhões de pessoas. Eu não vi esses partidos de esquerda fazendo um movimento mais profundo no sentido de alterar a percepção de que a esquerda é inimiga do cristianismo evangélico. Isso eu não vi acontecer.
Em sua opinião, por que não?
Eu tenho a impressão de que é um uma questão geracional, um bloqueio mesmo. Mas esse entendimento começa a vir de outros espaços, principalmente do mercado. Então, pensando em que medida o evangélico também pode ser visto ou como alguém que pode prejudicar o seu negócio, ou alguém que pode ser um consumidor mais ávido, mais envolvido, dependendo também de como você se comunica.
Por que um manual se, como o próprio título do livro indica, os evangélicos são um grande fenômeno? A quem se destina o manual?
O fenômeno evangélico existe fundamentalmente (ou evoluiu fundamentalmente) nas camadas populares do Brasil, do Brasil periférico. A cara do evangélico brasileiro é preta, pobre, periférica. É, portanto, urbana e predominantemente feminina. Então, a princípio, esse é um universo fora do universo dos pensadores do Brasil, dos intelectuais. Foi isso que motivou o manual, o fenômeno continua a crescer fora; ou principalmente fora dos muros acadêmicos. E que é visto por quem está dentro dos muros acadêmicos, em geral, de uma maneira preconceituosa e superficial.
Em relação à economia, então, há uma sensibilidade maior do setor empresarial sobre esse grupo?
Sim, a primeira sensibilidade tem a ver com o tema da perspectiva de um grande número de brasileiros. Um grupo muito sensível a alguns temas morais, que apareceram com muita intensidade nos últimos anos. A publicidade que toca, de alguma forma, a sensibilidade do campo evangélico, dá margem para descontentamento e afastamento. O evangélico, por exemplo, não quer que determinados conteúdos, como os envolvendo sexualidade, apareçam no corpo comercial de televisão durante o dia, quando os filhos estão assistindo televisão. Isso cria uma sensação de distanciamento em relação à marca. Então essa é a primeira coisa.
“A cara do evangélico brasileiro é preta, pobre, periférica. É, portanto, urbana e predominantemente feminina. Então, a princípio, esse é um universo fora do universo dos pensadores do Brasil”
Quais são as oportunidades de negócios oferecidas pelos evangélicos?
No setor de moda e de beleza, por exemplo. Existe muita demanda por esse tipo de produto, principalmente entre os evangélicos pentecostais — que zelam por sua aparência, pela maneira como são vistos e percebidos. A demanda por roupas, por exemplo, ainda é reprimida: roupas que mostrem menos o corpo. Mas a gente pode falar de comida, de bebida, de serviços bancários, de eletrônicos. Para todos esses campos existem oportunidades a serem exploradas.
A direita apostou no voto dos evangélicos para eleger Bolsonaro. Isso se confirmou de maneira efetiva?
Sim, foi efetiva nas duas últimas eleições presidenciais. Em torno de 70% do voto evangélico foi para o candidato de direita. A esquerda praticamente não conseguiu ser eficiente na comunicação com esse eleitor. As pessoas que continuam votando na esquerda dentro das igrejas e que suportaram essa pressão, se mantiveram de forma discreta. Quando a gente fala da presença bolsonarista, a gente fala dessa presença mais aguerrida, que não aceita a alternativa, que não aceita a diferença, que acha que o outro está completamente errado. Isso cria tensionamentos dentro das igrejas.
Qual perfil dos evangélicos que não apoiam o ex-presidente?
São dois principalmente. O primeiro está nas igrejas que chamamos de históricas ou missionárias. São igrejas mais antigas, tipo batista, metodista, luterana e, em certo sentido, também a presbiteriana. São igrejas de classe média, mais reservadas, em que esse proselitismo não acontece de uma maneira tão enfática. O segundo está nas igrejas pentecostais tradicionais, numa faixa de renda até dois salários mínimos. São pessoas que ainda dependem ou dependeram até pouco tempo atrás da ajuda do governo — portanto, mantém-se o elo de gratidão.
A defesa do armamento por parte de Bolsonaro foi vista como um entrave para o avanço do então presidente no eleitorado feminino mais pobre. Isso faz sentido?
Faz muito sentido. Nada é mais “anti-Jesus” — como disse o pastor Nelson Gomes, que era da Assembleia de Deus e acabou perseguido — do que uma pessoa com revólver na mão. Tem aí uma série de momentos bastante importantes da história de Jesus narrada na Bíblia, em que Jesus rejeita esse tipo de posicionamento, pela espada, pela guerra, por esse tipo de confronto. E nesse sentido existia aí uma percepção bastante refratária em relação a Bolsonaro —muito ligado ao Exército, à polícia, uma pessoa com uma atitude grosseira. Isso criou de fato um distanciamento entre mulheres, principalmente mulheres evangélicas.
Como os bolsonaristas abordaram essa questão?
Isso foi resolvido de forma muito poderosa pelo envolvimento crescente de Michelle Bolsonaro, atuando de uma maneira muito diligente, muito disciplinada, muito organizada, nos eventos, encontros e reuniões com mulheres. Já ouvi inúmeras vezes que o voto do Bolsonaro hoje é uma coisa que acontece com facilidade como um voto de confiança na Michelle e no que ela pode fazer junto com a atuação de Deus.
Negócios
O “mea culpa” alemão em filmes sobre os horrores do Holocausto

BERLIM — Barbeiro cai no choro ao se lembrar do trabalho que foi obrigado a fazer para os nazistas: cortar os cabelos das mulheres, sem que as prisioneiras, famintas e exaustas, desconfiassem de seu destino: a câmara de gás.
A cena é um dos momentos mais avassaladores de Shoah (1985), documentário de mais de nove horas de duração, que foi reexibido na íntegra durante a Berlinale, como é conhecido o festival de cinema da capital alemã, que chega em 2025 à sua 75ª edição.
O Holocausto raramente é ignorado pelo comitê que seleciona os filmes para o evento, com sede em Potsdamer Platz. Até porque os alemães não se cansam de lamentar o passado, definindo o Terceiro Reich como um capítulo obscuro da história do país.
Mas a programação de mea culpa está reforçada este ano, para marcar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Para que as atrocidades cometidas por Adolf Hitler (1889-1945) não sejam negadas ou esquecidas, filmes novos e antigos pontuam o festival, que será encerrado neste domingo.
Até agora, Shoah foi um dos pontos altos, com uma exibição na mostra Berlinale Special, com ingressos esgotados rapidamente, apesar de a projeção ter tomado o dia inteiro do público que compareceu à Akademie der Künste (AdK).
Apontado como o documentário mais importante sobre o Holocausto já feito, o filme assinado pelo francês Claude Lanzmann (1925-2018) se tornou um marco na história do cinema por não se apoiar em imagens de arquivo. Ele reuniu testemunhos de sobreviventes, nazistas e outros entrevistados que pudessem, de alguma forma, ajudar a reencenar o genocídio de seis milhões de judeus.
A riqueza de detalhes nos depoimentos é suficiente para que o espectador use a imaginação para visualizar os horrores. Um exemplo é o depoimento de Franz Schalling, registrado sem o conhecimento do guarda de segurança alemão, que descreve o processo de execução por gás em Chełmno, na Polônia.
Segundo ele, quando os judeus chegavam em caminhões ao campo de extermínio, os prisioneiros estavam “congelados, famintos e sujos”. Os oficiais nazistas diziam que eles teriam trabalho para fazer ali, mas que, antes de entrar, eles precisariam tomar banho. A caminho do porão, onde estavam as câmaras de gás (e não os banheiros), os presos tinham de se despir e entregar todos os objetos de valor.
Outro documentário, mais recente, dirigido pelo também francês Guillaume Ribot, resgata como foi revolucionária a representação do Holocausto em Shoah. Batizado Je n’avais que le néant (“Eu nada tinha, além do nada”, na tradução literal), esse é um filme sobre o filme anterior, com destaque para a jornada de mais de 12 anos de Lanzmann, período em que o cineasta percorreu 14 países em busca de testemunhas.
Ribot usou como base mais de 200 horas de material da filmagem original, além de recorrer a trechos do livro de memórias de Lanzmann, para estruturar a narrativa. Aqui entram não só os contratempos no caminho do documentarista de Shoah, como as artimanhas que ele usou para conseguir certos depoimentos, bem como suas inseguranças e dúvidas.
Lanzmann morreu, sem ter visto seu filme entrar, em 2023, para o Registro da Memória do Mundo da UNESCO.
Os moradores de hoje
Buscando outro ângulo do Holocausto, a Berlinale também apresenta nesta edição Bedrock, longa-metragem documental de Kinga Michalska, selecionado para a mostra Panorama. O que se vê aqui é um raio X psicológico da Polônia atual, a partir de depoimentos de quem mora nos locais de referência para o Holocausto até hoje.
Vários entrevistados ajudam a entender como as sombras do passado reverberam no presente, forçando os moradores a aprenderem a lidar com a memória coletiva traumática. Muitos ainda vivem sob um julgamento constante, como os residentes da cidade de Auschwitz — como se eles tivessem de se sentir culpados por viver no lugar onde foi erguido um campo de concentração.
A produção japonesa Underground, dirigida por Kaori Oda, também confronta presente e passado, ao revisitar as cavernas da ilha de Okinawa, onde os civis se escondiam durante os bombardeios conduzidos pelas tropas dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial. Buscando um efeito mais sensorial, a ferida histórica é traduzida por imagens que alternam escuridão e luz.
Para as gerações mais jovens
Os traumas da Segunda Guerra também atormentam o protagonista de série The Narrow Road to the Deep North, outro destaque da Berlinale Special deste ano. Foram exibidos os dois primeiros dos cinco episódios da produção, com foco em um herói de guerra (vivido por Jacob Elordi) com dificuldades para superar as memórias dolorosas do período em que foi prisioneiro dos japoneses.
Também foi programada para esta Berlinale a projeção de uma cópia restaurada de Das Falsche Wort (“A palavra equivocada”, em tradução literal), rodado em 1987, dentro da programação da mostra Forum Special. As documentaristas Katrin Seybold e Melanie Spitta resgatam aqui a perseguição nazista ao povo nômade conhecido como Sinti.
Elas revelam que o preconceito não acabou com o fim da guerra. Na época do lançamento, as cineastas reclamaram não terem tido acesso a certos documentos oficiais para a realização do filme.
Melanie Spitta (1946-2005), que perdeu seis irmãos durante o Holocausto, foi representada na sessão de Das Falsche Wort pela filha, a ativista Carmen Spitta.
Na ocasião, ela lembrou que mais de 500 mil ciganos da Europa foram assassinatos na era nazista, incluindo muitos de seus parentes.
Como Carmen disse, no cinema Arsenal: “Faz parte da nossa resistência, passar continuamente a nossa história às gerações mais jovens”.
Negócios
De quem é o texto: do aluno ou da inteligência artificial?
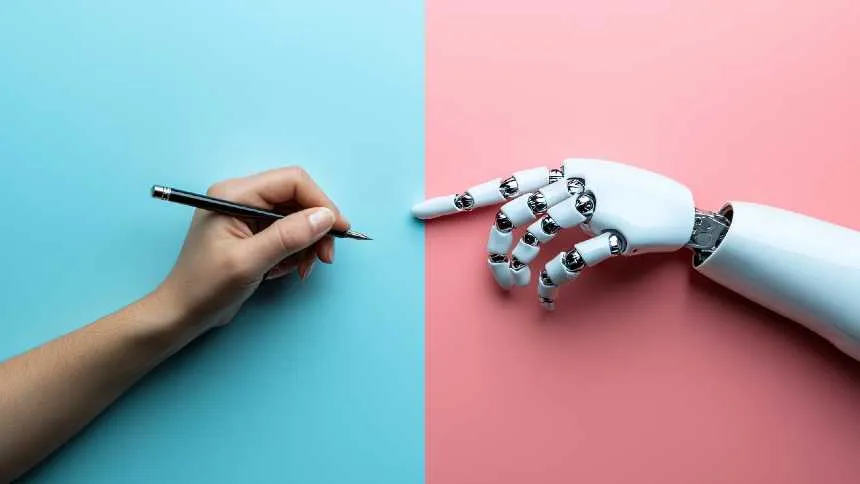
NOVA YORK — Em dezembro passado, os alunos de oitava série de Nova York passaram pelo tradicional moedor de carne de final curso: as aplicações para as high schools, as escolas de nona a 12ª séries. Algumas exigem redações, que desde a pandemia são submetidas na plataforma digital do Departamento de Educação da cidade.
Desta vez, no entanto, a Bard High School Early College, um dos colégios mais procurados pelas famílias nova-iorquinos, voltou aos tempos pré-covid: as redações deveriam ser produzidas presencialmente. O motivo? O número alarmante de textos escritos pela inteligência artificial (IA).
“Estudantes, como qualquer um de nós, sempre tiveram formas de plagiar”, diz, em entrevista ao NeoFeed, Rebecca Wallace-Seagel, fundadora e CEO da Writopia Lab, em Manhattan — organização de fomento à escrita criativa, com foco em crianças, adolescentes e jovens. “A novidade neste debate é a confusão em torno do papel da escrita na vida dos alunos.”
No processo de alfabetização, frequentemente a leitura é privilegiada em detrimento da escrita. Muitos especialistas, no entanto, defendem que o desenvolvimento da escrita, sobretudo da criativa e da crítica, é tão importante quando a capacidade ler. Aliás, o hábito de escrever melhora a capacidade da leitura — e vice-versa, um aperfeiçoando o outro, em um sistema de retroalimentação. Tem mais.
Não importa a área profissional, até na mais exata das carreiras de exatas, saber escrever bem é imprescindível para a formação de adultos independentes, capazes de se apropriar de suas próprias histórias e ideias e de comunicá-las de maneira clara.
“A menos que queiramos um sistema educacional focado apenas em tornar as pessoas consumidoras e não em ajudá-las a se tornarem produtoras, essa ênfase apenas na leitura — o que acontece em muitos lugares — é muito míope”, costuma defender Elyse Eidman-Aadahl, líder do National Writing Project, de apoio a professores que querem incentivar os alunos a escrever mais.
Mas, como diz Rebecca, o uso indiscriminado de ferramentas de IA pode minar os objetivos dos estudantes, em vez de ajudá-los. Cerca de 60% dos alunos, ela lembra, não foram letrados na linguagem da tecnologia. “E há uma ingenuidade generalizada sobre o quanto a escrita feita por IA é identificável”, completa.
Recentemente, a CEO da Writopia Lab avaliou a redação de um aluno, que estava se candidatando a uma vaga na universidade. O texto, em sua palavras, estava “sem alma”. Ela acabou descobrindo que o autor da redação, na realidade, era a IA — o que pegou o jovem de surpresa.
Um estudo da Universidade Harvard, em parceria com o Common Sense Media e o Hopelab, entrevistou 1,5 mil jovens, entre 14 e 22 anos. Metade deles já recorreu à tecnologia em um algum momento. Apenas 4%, no então, são usuários diários, lê-se em Teen and Young Adult Perspectives on Generative AI.
Pouco mais da metade usa a ferramenta para obter informações (51%) e brainstorming (53%). Muitos admitiram usar a IA para “colar” em tarefas realizadas em aula, lições de casa e/ou provas.
Mas, embora a integridade acadêmica continue sendo uma preocupação tanto para adultos quanto para adolescentes, muitos participantes do estudo destacaram as experiências acadêmicas positivas, chamado a IA de “a abordagem moderna para o aprendizado” e “a capacidade de pedir ajuda para começar trabalhos ou criar um plano de aprendizado individualizado”.
Na Bronx Science, uma das cinco escolas de high school da elite acadêmica de Nova York, os professores avisam que vão dar zero para qualquer trabalho ou prova feito com inteligência artificial, conta Yael Mehler, de 15 anos, estudante da 10ª série, ao NeoFeed.
Mas, certa vez, lembra ela, um aluno tirou a nota mais baixa, acusado de recorrer à IA. Detalhe: ele não tinha usado a tecnologia para realizar a tarefa.
Uma grande confusão
Está uma confusão danada. Na Boston University, aconteceu caso semelhante. Como conta Priscila Kligerman, estudante de administração e marketing, em um trabalho em grupo, um dos colegas usou a IA para fazer a sua parte. O professor detectou a fraude reduziu a nota dos quatro alunos.
“Por outro lado, este mesmo professor marcou uma parte da redação de um amigo como IA — mas não era o caso”, diz Priscila.
Algumas escolas permitem a ferramenta em atividades específicas, com a supervisão dos professores. Na Bronx Science, por exemplo, os alunos são incentivados a usá-la nas pesquisas de biologia, por exemplo, para ajudar a resumir uma ideia de forma mais clara. Na Boston University, como tecnologia de brainstorm.
No Brasil, o cenário não é diferente. Muitas escolas já adotaram a inteligência artificial, inclusive na rede pública. Para os estudiosos do assunto, a IA traz boas oportunidades, mas também grandes preocupações — sobretudo, em relação ao uso excessivo.
Entre eles, um dos principais pontos é alertar que o material produzido pela tecnologia não é uma criação intelectual própria; mas do robô.
“Detetives” de textos
Identificar se um texto foi produzido por inteligência artificial é motivo crescente de preocupação não apenas nas escolas e universidades, como também no mundo corporativo. Como os textos gerados por IA costumam ter uma produção otimizada para SEO, o conjunto de técnicas e estratégias para que um determinado site fique mais bem posicionados nos buscadores, para os mais experientes, é fácil identificar quando o robô foi o “autor” de uma redação.
Ele costuma ser impessoal, de estrutura previsível e polida e excessivamente formal. A máquina adora frases longas e não se incomoda com a repetição de palavras e de ideias. É useira e vezeira nos exemplos genéricos e pouco profunda ou profunda demais em temas mais complexos.
Em entrevista ao podcast The Daily, do jornal The New York Times, em janeiro de 2023, dois meses depois do lançamento do ChatGPT, Andrew Reeves, professor de história da Middle Georgia State University, relatou que uma de suas aulas abrange o início da Era Moderna. Ele debateu com seus alunos, em torno da faixa etária de 20 anos, algumas questões sobre a continuidade das políticas do Protetorado de Cromwell, pela monarquia Stuart.
Pouco depois, ao ler um texto de um aluno sobre o tema, Reeves notou que a riqueza de detalhes extrapolava o conteúdo abordado em sala de aula. O texto tinha uma voz de “alguém” totalmente familiarizado com as Relações Exteriores da Inglaterra do século XVII. “Mesmo um aluno brilhante, entusiasmado e que domina o material, ele não soa como uma “Wikipédia destilada”’, disse ele.
“Ainda há uma espécie de personalidade própria e um entendimento idiossincrático na escrita destes jovens”, explicou Reeves. “Ao escrever sobre estes temas, sempre há algo que pode ter escapado, algo extremamente perspicaz, ou até uma visão nova, justamente por eles não estarem mergulhados no assunto.”
Mas aquela publicação não tinha nada disso: “Foi aí que senti o estômago embrulhar”.
Conforme as tecnologias avançam, a IA para produção de textos torna-se mais e mais sofisticada. Paralelamente a esse movimento, as ferramentas para detecção do uso de inteligência artificial também se refinam e avançam ritmo acelerado. O mercado global desses “detetives” previsto crescer 24%, entre 2024 e 2030, no cálculos da consultoria Luncitel.
-

 Entretenimento8 meses atrás
Entretenimento8 meses atrásda Redação | Jovem Pan
-

 Negócios7 meses atrás
Negócios7 meses atrásO fiasco de Bill Ackman
-

 Entretenimento6 meses atrás
Entretenimento6 meses atrásJovem Pan | Jovem Pan
-

 Tecnologia9 meses atrás
Tecnologia9 meses atrásLinguagem back-end: veja as principais e guia completo sobre!
-

 Empreendedorismo9 meses atrás
Empreendedorismo9 meses atrás5 maneiras de garantir acolhimento às mães na empresa
-

 Tecnologia9 meses atrás
Tecnologia9 meses atrásLinguagem de programação Swift: como programar para IOS!
-

 Entretenimento9 meses atrás
Entretenimento9 meses atrásGisele Bündchen arrecada R$ 4,5 milhões para vítimas de enchentes no RS
-

 Negócios9 meses atrás
Negócios9 meses atrásAs duas vitórias da IWG, dona de Regus e Spaces, sobre o WeWork: na Justiça e em um prédio em SP



















