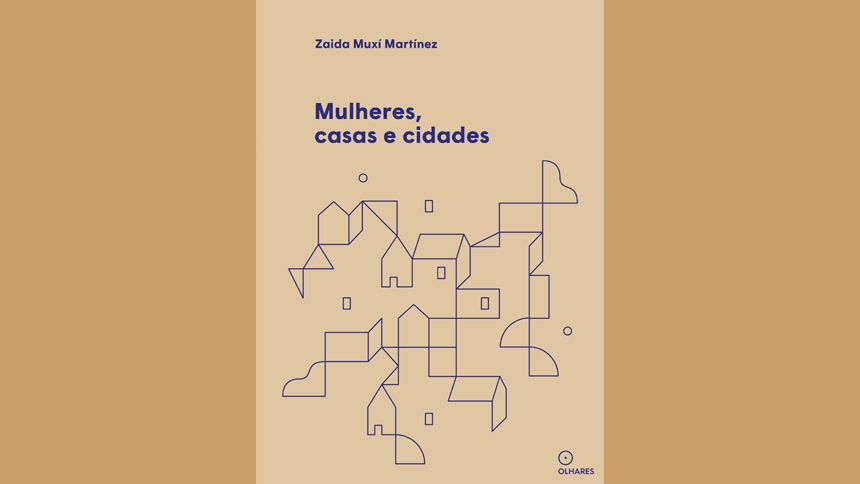Negócios
Essas mulheres incríveis (suas casas e cidades) esquecidas pela história

Terceira mulher no Brasil a se formar engenheira civil, a sul-mato-grossense Carmen Portinho (1903-2001) foi a criadora do Departamento de Habitação Popular da prefeitura do Rio de Janeiro, em 1948, então capital do país. E, uma de suas ações inaugurais no cargo foi a construção do conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, o Pedregulho.
Carmen foi responsável pelo programa do complexo habitacional, que deveria “contar com serviços coletivos, como lavanderias comunitárias, que libertassem as mulheres das sobrecargas dos trabalhos domésticos”, como descreve a arquiteta argentina Zaida Muxí Martínez, no recém-lançado livro Mulheres, casas e cidades, da editora Olhares.
Na obra, Zaida resgata a memória de mulheres cujo pensamento e cuja produção na arquitetura e no urbanismo foram apagados ou relegados a um segundo plano pela historiografia oficial. Nesse contexto, Carmen é um caso exemplar entre as brasileiras.
A engenheira civil também capitaneou as obras do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, entre 1954 e 1967, quando também ocupava o cargo de diretora adjunta da instituição.
No entanto, quando falamos de MAM Rio e também do Pedregulho, frequentemente, vêm à lembrança os nomes de Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), um dos maiores nomes da arquitetura modernista brasileira, e do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994), partícipes de ambos os projetos.
A propósito, Carmen e Reidy foram um casal por cerca de 30 anos, sem nunca terem se casado oficialmente. A ideia de uma mulher profissional à sombra dos homens, não raro seus maridos, é recorrente no livro de Zaida.
Sem educação formal como arquiteta, a irlandesa Eileen Gray (1878-1976) foi responsável pelo projeto da casa modernista E-1027, construída entre 1926 e 1929, em Roquebrune Cap-Martin, na França, assim como de seu mobiliário.
No entanto, por muito tempo se atribuiu ambos a Le Corbusier (1887-1965), somente porque o arquiteto suíço pintara um de seus famosos murais no balneário francês e, ao publicá-los no livro Oeuvre Complète (1946) e na revista L’architecture d’aujourd’hui (1948), mencionara a casa sem dar os devidos créditos a Eileen.
“Não existiam mulheres antes de nós?”
Em certos casos, Zaida considera que as arquitetas que ficaram à sombra de seus maridos como estratégia para se manterem em atividade, mesmo que tivessem filhos, como é o caso da finlandesa Aino Aalto (1894-1949) e seu parceiro Alvar Aalto (1898-1976).
“Não iam aos ateliês trabalhar, mas à noite, em casa, comentavam os projetos, faziam desenhos nas plantas e diziam suas opiniões. Então essas mulheres estiveram presentes nos projetos destes arquitetos, mas depois a história não as reconhece”, escreve a autora.
Em entrevista ao NeoFeed, Zaida conta que iniciou sua investigação para o livro, em 2002, quando, durante uma pesquisa na biblioteca da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, questionou-se: “Onde estão as mulheres? Não existiram mulheres antes de nós?”.
Como vive em Barcelona, prosseguiu com seu levantamento na Espanha, na Grã-Bretanha e na Finlândia, para somente depois chegar às Américas do Norte e do Sul.
A argentina ressalta que não colocou a palavra arquitetas no título do livro porque buscou, em sua pesquisa, “mulheres que propuseram melhorias em seu habitat, ou seja, a casa, a cidade”, conta.
Uma delas, lembra Zaida, foi a norte-americana Melusina Fay Peirce (1836-1923), que, na segunda metade do século 19, teria proposto moradias sem cozinhas, pois “as tarefas domésticas pressupunham uma monotonia diária e uma pressão para as mulheres que queriam seguir com suas ambições pessoais”.
Outro exemplo do século 19 é a inglesa Octavia Hill (1838-1912) que, diante das condições insalubres das chamadas slums de Londres, posicionou-se contra a demolição e realocação de famílias da classe operária como solução para o problema.
“O que ela propunha era melhorar as condições de vida das mulheres e de suas famílias e, em alguma forma, de elas trabalharem juntas”, diz Zaida. “Para mim, esse pensamento é precursor do que vemos nos planos de reabilitação e renovação de favelas. E é um exemplo que parte de uma experiência privada, da casa, e atinge um impacto coletivo, na cidade.”
Essa lógica também fez parte da trajetória de umas das primeiras mulheres com educação formal, universitária, em arquitetura, como a austríaca Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000). “Ainda estudante, ela se interessa por tudo que envolve a vida diária, não somente na casa, mas na vizinhança, na escola, nos equipamentos de saúde”, diz Zaida.
“E Margarete começa a trabalhar com populações de baixa renda de cidades austríacas, ou mesmo de Viena, que enfrentam grandes deslocamentos para trabalhar nas fábricas porque não há habitações o suficiente onde elas estão instaladas”, completa a autora.
A partir dessa experiência, a arquiteta austríaca viria a propor, num zeitgeist transatlântico com o pensamento de Melusina, programas habitacionais públicos que não contemplavam cozinhas.
“Se todos os adultos trabalham fora, numa fábrica, por que alguém terá de voltar para casa e ter outro turno de trabalho que envolva cozinhar”, questiona Zaida. “Elas estiveram por trás de uma proposta de cozinha coletiva com pessoas encarregadas de preparar as refeições, que seriam consumidas pelos operários em casa ou em um refeitório comunitário.”
Ao citar a arquiteta italiana radicada no Brasil Lina Bo Bardi (1914-1992), a autora destaca que seu projeto expositivo para o Museu da Arete de São Paulo (Masp) não pressupunha uma hierarquia e que “o tempo da história e da arte ocidental se transforma em um tempo presente, onde tudo está junto, sem início nem evolução temporal, refletindo o impacto de milhares de anos de evolução de diferentes culturas que se superpõem em um único momento, em um mesmo lugar, numa colisão cultural”.
Apesar da importância de Lina para a arquitetura brasileira — também são de sua autoria os projetos do Sesc Pompeia, do Museu de Arte Moderna da Bahia, entre outros —, ela é um exemplo de arquiteta cujo devido reconhecimento só viria postumamente. E que, agora, junto com Carmen, Eileen, Aino e Margarete, têm suas histórias contadas por Zaida.
Negócios
Fome e metano: os dois lados de uma “moeda” chamada desperdício de alimentos

Uma das cenas mais aterradoras da fome no Brasil é a de mulheres, homens e crianças escalando montanhas gigantescas de resíduos à procura de comida. Boa parte das 55 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados anualmente no país tem os lixões como destino — em uma quantidade oito vezes superior à necessária para alimentar quem não tem o que comer.
Um país, potência global da agropecuária, com 64 milhões de pessoas em insegurança alimentar, já é um descalabro. Do ponto de vista ambiental, a situação é também inquietante. Os alimentos desperdiçados respondem por 10% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE). E, entre eles está o perigoso metano.
Intrinsecamente associado ao modo como produzimos nossos alimentos e nos alimentamos, o gás tem duas fontes majoritárias. A primeira é a eructação dos ruminantes, especialmente as vacas e os bois. E, a segunda, os restos de comida despejados nos lixões e aterros sanitários — transformados no composto pela decomposição de matéria orgânica, por bactérias.
A quantidade de metano lançada na atmosfera pelos alimentos descartados representa o quadruplo da emitida por todas as viagens de avião, realizadas durante um ano inteiro, no mundo. Ou 87% de todo o gás emitido pelo transporte rodoviário global, no mesmo período.
Embora seja lançado na atmosfera em volumes inferiores aos de CO², o metano é 80 vezes mais potente para o aquecimento global. Mas, como ele se decompõe mais rapidamente do que o carbono (12 anos versus alguns milênios), o controle do gás é tido como uma das estratégias mais eficazes para conter o aumento das temperaturas do planeta — uma espécie de “freio de emergência”, como definem os analistas da ReFED, ONG americana focada no desperdício de alimentos.
Para se ter ideia do impacto das perdas alimentares na produção de metano, veja o que acontece nos Estados Unidos. A comida descartada representa 14% do total de emissões do composto no país, o equivalente à circulação, ao longo de um ano, de 75 milhões de carros de passeio — ou pouco mais de um quarto de toda a frota americana, indica pesquisa do ReFED, em parceria com Global Methane Hub.
Nem todos os alimentos jogados fora têm a mesma pegada ecológica. A carne bovina, por exemplo, representa 5% do desperdício global e contribui com mais de 20% dos GEE. Com os vegetais acontece o inverso. As frutas, legumes e verduras somam 20% dos produtos descartados, mas estão associados a 5% das emissões, sobretudo os ricos em amido, como batata, arroz, feijão, milho e ervilha.
“As emissões de metano causadas pelo ser humano [leia-se sistemas agroalimentares] poderiam ser reduzidas em até 45% dentro da década”, informam os analistas da Pnuma, a agência da ONU para o meio ambiente.
De casa aos laboratórios de pesquisa
Em relação ao gás emitido pela comida descartada, o primeiro passo é também o mais eficiente: evitar o desperdício. Do campo à mesa, quase 45% de tudo o que é produzido vai para o lixo em nossos lares — o equivalente a 569 milhões de toneladas postas fora, anualmente, no mundo.
“Com pequenas mudanças em nossos hábitos diários, podemos transformar a maneira como compramos, armazenamos, cozinhamos e consumimos alimentos, contribuindo para um mundo mais sustentável”, lê-se no guia sobre desperdício de alimentos Lugar de comida é no prato, lançado em setembro pelo Pacto Contra a Fome.
A primeira delas: planejamento das refeições, com base na rotina e nos compromissos da semana. “Essa é uma maneira simples e fácil de evitar comprar mais do que o necessário”, informam os consultores da coalizão.
Outro ponto importante é adotar o hábito de comer no almoço o que ficou do jantar — e vice-versa. Um estudo da ONG americana Natural Resources Defense Council mostra: as sobras são a segunda categoria de alimentos mais desperdiçadas nos lares, atrás apenas das frutas, verduras e legumes.
Além de campanhas pela prevenção do desperdício, outra medida eficaz para tirar os alimentos não consumidos do fluxo de resíduo é a reciclagem. A compostagem transforma a matéria orgânica em adubo.
Outras medidas estão no âmbito da indústria e dos serviços de alimentação. Alguns especialistas defendem, por exemplo, a criação de um sistema diferente de datação dos alimentos não perecíveis.
Enquanto isso, inovadores do sistema agrifoodtech se lançam na busca por novas ferramentas capazes de tornar a tornar a cadeia mais eficiente.
São as plataformas onde supermercados, restaurantes e lanchonetes, entre outros, oferecem descontos em produtos prestes a expirar ou esteticamente inadequados para o mercado. Ou os snacks feitos de restos de vegetais; o “coquetel” de sobras que dá a origem a cogumelos gourmet; os dispositivos que indicam a hora de consumir as frutas, antes que elas apodreçam; os sistemas que prolongam a vida de determinados alimentos.. e por ai, vai… criatividade não falta.
Tem muita novidade. Cientistas do Laboratório Nacional de Energia Renovável dos Estados Unidos (NREL, na sigla em inglês) conseguiram desenvolver, a partir dos restos de comida, moléculas de parafina que, nos testes de laboratório se mostraram eficazes para abastecer motores de aviões a jato.
Outros estudiosos buscam capturar o metano exalado pelos lixões e aterros sanitários e convertê-lo em biogás. É a velha máxima do químico francês Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794): “Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.
Negócios
Bitcoin ganha cada vez mais espaço na carteira de investidores institucionais no Brasil

A decisão da Verde Asset de investir em bitcoin para surfar a onda de Donald Trump durante as eleições americanas surpreendeu parte do mercado local, dada a volatilidade do ativo e o risco de queda em caso de vitória da candidata democrata Kamala Harris.
Não apenas Trump foi eleito, mas seu partido conquistou maioria nas casas legislativas, impulsionando o preço da criptomoeda e, consequentemente, a performance da gestora de Luis Stuhlberger. Em novembro, mês da vitória de Trump, o principal fundo da Verde registrou seu melhor desempenho no ano, com retorno de 3,29%.
Antes crítico ao papel das criptomoedas na economia, Trump tornou o bitcoin uma de suas principais bandeiras eleitorais, gerando expectativas sobre políticas pró-cripto em seu novo governo. Nomeações estratégicas, como Paul Atkins para a SEC e Scott Bessent para o Tesouro, reforçaram o otimismo.
Por conta disso, o bitcoin atingiu sua máxima histórica de US$ 108 mil em 17 de dezembro. E há quem projete ainda mais: Eric Trump, filho do presidente eleito, estima que o ativo pode chegar a US$ 1 milhão. Mas, desde então, entrou em queda e hoje está cotado a US$ 95.867. No ano, no entanto, a alta é de 116,87%.
Quem se antecipou à tendência, colheu os frutos. Esse foi o caso do fundo Money Rider, da Empiricus, que acumula retorno de 44% no ano. O gestor João Piccioni atribui 10 pontos percentuais desse desempenho às posições em cripto.
“A ideia de incluir uma posição robusta em bitcoin surgiu em junho de 2023. Percebemos que a adoção seria um caminho sem volta e alocamos 10% do fundo. Ainda havia o halving previsto para 2024. Com a entrada do investidor institucional, o bitcoin disparou”, diz Piccioni.
A entrada de investidores institucionais ganhou força especialmente nos EUA, antes mesmo das expectativas pró-cripto da campanha de Trump. Um marco foi a aprovação pela SEC de ETFs de bitcoin à vista, como o IBIT, da BlackRock, que captou mais de US$ 2 bilhões em duas semanas.
Atualmente, o fundo possui US$ 55,7 bilhões em bitcoin. Mais recentemente, a BlackRock passou a recomendar uma alocação de até 2% em bitcoin como forma de melhorar a relação risco-retorno.
“O IBIT superou os principais lançamentos de ETFs da história. Isso criou um ciclo no qual os institucionais, se ainda não alocaram, estão ao menos considerando ter algum recurso para avaliar esse mercado, seja um analista, um consultor ou por meio de parcerias para melhorar o entendimento”, afirma Felipe Amoeda, especialista em cripto da gestora global HMC.
No Brasil, os ETFs relacionados a cripto existem desde 2021 e estão entre os mais populares na bolsa. O HASH11, pioneiro no país, é o segundo com maior número de cotistas, atrás apenas do IVVB11, atrelado ao principal índice de ações dos Estados Unidos. Atualmente, os ETFs de criptomoedas somam pouco mais de R$ 8 bilhões em patrimônio no Brasil.
“Vemos muitas operações de arbitragem nesses ETFs, além de algumas gestoras adotando posições estratégicas. É um movimento crescente”, afirma Samir Kerbage, CIO da Hashdex. Foi por meio do HASH11 que a Verde Asset fez sua estreia nos criptoativos, em 2021.
Hoje, os fundos da Hashdex têm R$ 540 milhões de institucionais, alta de 260% desde o início do ano. Entre os grandes investidores da Hashdex está o Banco do Brasil, que possui um fundo ativo de criptomoedas com 31 mil cotistas e R$ 350 milhões sob gestão.
Grandes fundos brasileiros também buscam exposição direta em cripto. Para atender a essa demanda, o Mercado Bitcoin criou uma plataforma dedicada a gestores profissionais. “O programa atende necessidades específicas, como relatórios regulatórios e integração com administradores de fundos. É muito mais sofisticado”, diz o diretor de produto Guilherme Pimentel.
Os clientes institucionais, que incluem gestoras, tesourarias de bancos e formadores de mercado, representam 70% do volume do Mercado Bitcoin. “São poucos, mas muito grandes. Estamos expandindo os serviços para gestores interessados em alocar parte do patrimônio em cripto”, diz Pimentel. Hoje, mais de 10 gestoras multimercado utilizam a plataforma.
“O gestor que diz que não compra cripto porque não conhece está um passo atrás. Vai aprender. O risco reputacional é perder o rali por não estar alocado nesse mercado, especialmente no cenário brasileiro”, alerta Piccioni, da Empiricus. Recentemente, ele reajustou a posição do fundo, com Ethereum e Solana como maiores apostas, deixando o bitcoin em terceiro lugar.
“Em 2025, esperamos que as altcoins ganhem mais tração, enquanto o bitcoin pode ficar um pouco para trás. Tem tudo para 2025 ser mais um ano muito bom para as criptos”, prevê o gestor.
Catalisadores de alta
No mercado, há grande expectativa de que a adoção do bitcoin como reserva por bancos centrais e tesouros possa ser a próxima alavanca para a valorização da criptomoeda. Além dos Estados Unidos, a Rússia também estuda projetos para a criação de uma reserva em bitcoin diante de sanções internacionais. Mesmo sem um plano ativo de adoção oficial, governos como o americano e o chinês já detêm quantidades significativas da criptomoeda, acumuladas principalmente por meio de apreensões.
“Vimos um movimento de alta significativa com a entrada dos institucionais. O próximo pode ser puxado pelos Estados. Se os Estados Unidos colocarem 1% ou 2% de seu Tesouro em bitcoin, a China, a Rússia e outros países, geraria uma demanda muito maior do que vimos até agora. É oferta e demanda: preço para cima”, disse Arthur Severo, especialista em criptomoedas da Manchester Investimentos.
Com emissão limitada, a perspectiva é de que o último bitcoin seja minerado em 2140, com o volume de emissões diminuindo pela metade a cada quatro anos. O limite total de emissão é de 21 milhões de bitcoins.
Essa característica tem tornado a criptomoeda cada vez mais relevante, especialmente diante de uma inflação global mais pressionada e graves problemas fiscais em diversos países. A expectativa é de que, no futuro, o bitcoin tenha um comportamento mais parecido com o do ouro, sendo visto como um ativo defensivo.
“A tendência é que a volatilidade diminua, com novos entrantes e maior volume de negócios”, diz Guilherme Pimentel. A redução da volatilidade, por sua vez, tende a aumentar a aceitação do ativo, gerando uma espiral positiva.
De acordo com ele, a volatilidade anualizada do bitcoin, hoje, está entre 40% e 60%, contra 15% do S&P 500 e 20% do Ibovespa. “O bitcoin ainda tem uma volatilidade de 3 a 4 vezes a da bolsa americana, mas já foi de 150%. Essa volatilidade mais controlada deve ajudar a atrair mais investidores”, afirma Pimentel.
Negócios
Cesar Lattes, o físico que merecia um Nobel (e que todo pesquisador brasileiro conhece)

Por onde começar para explicar o quanto o físico paranaense Cesar Lattes (1924-2005) foi importante para a ciência do Brasil? A reputação internacional que alcançou na primeira metade do século 20 — e que se mantém até hoje, ano de seu centenário — fez dele o cientista brasileiro a chegar mais perto de um prêmio Nobel.
Ainda muito jovem, com apenas 23 anos, Lattes foi o codescobridor do méson pi (ou píon) e seu trabalho foi fundamental para o avanço da física atômica. Graças às suas experiências, foi possível aprimorar um novo método fotográfico para observação da trajetória da partícula subatômica.
Mas a honraria da Academia Real das Ciências da Suécia coube apenas ao físico inglês Cecil Powell (1903-1969), chefe do laboratório da Universidade de Bristol, na Inglaterra, onde trabalhava a equipe da qual o brasileiro fazia parte. Ele foi laureado com o Nobel de Física de 1950, três anos depois da primeira observação do méson pi.
Essas e outras muitas histórias que mostram como Lattes se firmou como um dos nomes mais interessantes e importantes da física mundial estão em Cesar Lattes — Uma Vida, de Marta Góes e Tato Coutinho.
Recém-lançado pela editora Record, o livro contou ainda com a colaboração na organização do jornalista Jorge Luis Colombo e da segunda das quatro filhas do biografado, Maria Cristina Lattes Vezzan.
Autora de várias peças de teatro, jornalista e escritora, Marta escreveu a quatro mãos a autobiografia de Fernanda Montenegro e foi indicada ao Prêmio Jabuti por Alfredo Mesquita — Um grã-fino na contramão. Tato teve longas passagens pelas editoras Abril e Trip, além da TV Cultura e é editor atualmente de biografias da editora Livros de Família.
Entre as fases de pesquisas e escrita do livro, foram 13 meses de trabalho — até setembro, quando se deu a última etapa dos ajustes apontados pela revisão técnica do historiador Heráclio Duarte Tavares.
Se o legado de Lattes para o mundo é o méson pi, para o Brasil, ele ultrapassa a subpartícula atômica. Ao longo de toda a vida, o físico empenhou seu prestígio para tentar desenvolver a ciência brasileira, como minunciosamente mostram Marta e Tato, em um trabalho impecável de pesquisa, feito no Brasil, Inglaterra e Itália.
Ele é reconhecido como o principal articulador para a institucionalização da pesquisa científica no país, com a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Aliás, todo acadêmico, quando precisa organizar e apresentar sua vida profissional de modo oficial, deve fazer seu “Currículo Lattes”, um padrão nacional de registro da vida pregressa e atual dos cientistas brasileiros e do exterior, adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do país. Pois é, o nome da plataforma, lançada em 1999, é em homenagem ao paranaense.
“[Lattes] É um grande homem e um grande patriota. Conheço-o há longos anos, e as descobertas que fez e as que certamente fará futuramente o colocam em posição privilegiada no mundo da pesquisa nuclear. É um moço que honra o Brasil e está fazendo muito por sua pátria. Poderia estar trabalhando em qualquer país do mundo, mas, às muitas ofertas que recebeu, preferiu ficar em sua terra e treinar um grupo de cientistas, para que o Brasil, em futuro próximo, tenha as reservas humanas necessárias para seu progresso no campo da pesquisa nuclear.”
O elogio foi feito por ninguém menos do que Robert Oppenheimer (1904-1967), durante sua visita ao Brasil, em julho de 1953. O físico americano era o líder do Projeto Manhatan, que, nos anos 1940, criou a primeira bomba atômica.
“Deixa para lá”
Apesar de nunca ter esperado ou buscado o Nobel, Lattes, de certa maneira, se incomodava com o assunto, mostram os biógrafos. Em uma entrevista ao jornal da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 2002, ele diz: “Deixa isso para lá. Esses prêmios grandiosos não ajudam a ciência”.
Para o brasileiro, quem deveria ter ganhado o prêmio era o físico italiano Giuseppe Occhialini (1903-1997). “Tanto na descoberta do méson pi, em 1946, como na sua criação artificial, em 1948, tive colaboração do Giuseppe Occhialini”, comenta.

Sua modéstia e as intermináveis obrigações do trabalho institucional e científico, porém, o impediam de desperdiçar o tempo de lucidez com o assunto.
Seu projeto era fazer do Brasil um novo polo para a física. E ele foi incansável nessa missão, mesmo obrigado a enfrentar enormes desafios pessoais e profissionais.
Portador do transtorno bipolar, viveu décadas entre episódios de mania e depressão. Em uma época em que os tratamentos eram precários e agressivos e a doença costumava ser ainda mais estigmatizada do que hoje, Lattes foi diversas vezes internado.
Enquanto isso, tentava vencer os desafios impostos pela burocracia e pela falta de visão das diversas esferas de governo e do legislativo para o investimento na ciência. Não foi menos diferente na captação de recursos junto a financiadores privados.
E tiveram outros tantos problemas. Em meados dos anos 1950, por exemplo, o próprio Lattes denunciou à imprensa os desvios de recursos no CBPF e a falta de interesse da burocracia estatal em investigar e punir os responsáveis pelos desmandos.
Além da carreira do físico, ao longo de 320 páginas, a biografia recém-lançada conta a história de vida desse filho dos imigrantes italianos Giuseppe e Carolina — a infância em Curitiba e os estudos em São Paulo e em Bristol.
Salvo pela Panair
Uma das passagens conta aquela vez em que o físico foi salvo de um acidente de avião. No fim dos anos 1940, tendo de ir da Inglaterra para o Brasil, de onde viajaria para a Bolívia, Lattes ouviu de um integrante da embaixada brasileira em Londres que os aviões britânicos vinham reformados da Segunda Segunda Guerra Mundial e serviam uma comida péssima, além de comissárias pouco simpáticas.
De última hora trocou a passagem por uma da brasileira Panair — aeronaves novas, aeromoças gentis e um serviço de bordo que oferecia até bifes de filé mignon. Pois bem, o avião britânico que o traria para o Rio de Janeiro teve de fazer um pouso forçado no Senegal. Quatro pessoas morreram.
Lattes adorava o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Chegou a comprar uma casa na região, para onde ia com frequência com a esposa Martha, as filhas e os amigos.
A música e a literatura, especialmente Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, faziam parte de sua rotina, assim como a companhia de seus cães, principalmente do perdigueiro Gaúcho.
Até o fim, Lattes se manteve ativo e relevante na pesquisa científica brasileira, nunca se deixou abater nem pela bipolaridade nem pelos entraves políticos e as complexidades da burocracia acadêmica. Morreu aos 80 anos, vítima de um câncer na bexiga e edema pulmonar.
Como escreve Milton Gleiser, físico, astrônomo, escritor e professor na Dartmouth College, Estados Unidos: “A vida de Lattes merece um mergulho profundo”.
-

 Entretenimento6 meses atrás
Entretenimento6 meses atrásda Redação | Jovem Pan
-

 Negócios5 meses atrás
Negócios5 meses atrásO fiasco de Bill Ackman
-

 Entretenimento4 meses atrás
Entretenimento4 meses atrásJovem Pan | Jovem Pan
-

 Tecnologia7 meses atrás
Tecnologia7 meses atrásLinguagem back-end: veja as principais e guia completo sobre!
-

 Empreendedorismo7 meses atrás
Empreendedorismo7 meses atrás5 maneiras de garantir acolhimento às mães na empresa
-

 Tecnologia7 meses atrás
Tecnologia7 meses atrásLinguagem de programação Swift: como programar para IOS!
-

 Entretenimento7 meses atrás
Entretenimento7 meses atrásGisele Bündchen arrecada R$ 4,5 milhões para vítimas de enchentes no RS
-

 Negócios7 meses atrás
Negócios7 meses atrásAs duas vitórias da IWG, dona de Regus e Spaces, sobre o WeWork: na Justiça e em um prédio em SP